Luanda, Lisboa, Paraíso, Djaimilia Pereira de Almeida (Companhia das Letras)
Custa-me sempre recuperar de um bom livro. De um mau livro ou pelo menos de um de que não goste, recupero facilmente. Nalguns casos abandono-o a meio, mas mesmo que chegue ao fim, quando viro a última página, já o começo a esquecer e só desejo começar um novo. Mas quando chego ao fim de um livro de que gostei, sou tentada por vezes a reler algumas partes e demoro, indecisa, a encontrar nova leitura, como se aquele outro não me abandonasse imediatamente.
É o que está a acontecer com este Luanda, Lisboa, Paraíso. Comprei-o recentemente no Festival Literário Língua Mátria e logo que folheei as primeiras páginas apaixonei-me pela escrita. Poesia disfarçada de prosa:
"(...) Seria mentira dizer que as últimas vezes são os nossos anjos-da-guarda." (pg. 29)
"(...) As suas mãos haviam-se feito brancas e assim seriam quando morresse. A obra e não o nascimento tinham-no tornado da cor do pai, que nunca mais tinha visto. A vida fizera dele um albino do destino, tingindo-o com uma demão de ironia. (pg. 99)"
Luanda, Lisboa, Paraíso conta a história de Aquiles, que nasceu com o calcanhar malformado, e com 15 anos viaja para Lisboa, com o pai, Cartola, enfermeiro, para ser operado ao calcanhar. Em Luanda, em plena guerra civil, ficam a mãe, Glória, acamada desde o nascimento do filho, a irmã e a filha dela e duas primas. Mesmo depois de sair do hospital, os dois, pai e filho, vão permanecendo em Lisboa que descobrem inóspita e distante das imagens que dela formavam:
"(...) Assim que pai e filho perderam a ilusão de que Lisboa os aguardava e de que ali podiam contar com alguém ou esperar alguma coisa do futuro, a cidade tornou-se uma barulheira."
É um livro sobre a esperança e como ela é determinante na nossa vida. Existindo esperança, as pessoas acreditam no futuro, sonham, reconstroem a casa depois de ter ardido, escrevem cartas, fazem promessas nas quais acreditam. Mas quando a esperança desaparece, tudo o resto cai como um castelo de cartas. Como se a esperança fosse a cola que mantém tudo o mais unido. Ou podia substituir a esperança pela amizade e escrever exatamente o mesmo. Mas talvez fosse a amizade que lhes permitia a esperança. No final Cartola atira a cartola ao Tejo, anunciando provavelmente a partida como o pai dele fizera muitos anos antes - e abdicando ambos do objeto que lhes deu o nome.
A acabar, não posso deixar de referir um parágrafo cuja leitura me surpreendeu. Aquiles vai a uma feira com a irmã e a sobrinha, que vêm a Lisboa passar o Verão e sentam-se a comer junto de uma estrada. Eles observam as pessoa que passam nos carros e que tiram macacos do nariz (confesso que também me divirto a observar quem o faz) ou a pintar os lábios no espelho antes do semáforo abrir e conclui assim:
"(...) Mas não se saberia dizer quem observava, pois os outros, ao passarem de raspão, também os viam e eram aos olhos deles três pobres diabos sem destino, uma família de chimpanzés vestidos de gente."
Nunca me ocorreria esta comparação e confesso que, apesar de desdenhar da crescente imposição do politicamente correto, me chocou até. Como seria entendida ou lida esta afirmação por parte de uma escritora branca? Ou será que escreveria o mesmo se se tratasse de 3 jovens brancos? Mas provavelmente não me será fácil entender e muito menos julgar.
"(...) Seria mentira dizer que as últimas vezes são os nossos anjos-da-guarda." (pg. 29)
"(...) As suas mãos haviam-se feito brancas e assim seriam quando morresse. A obra e não o nascimento tinham-no tornado da cor do pai, que nunca mais tinha visto. A vida fizera dele um albino do destino, tingindo-o com uma demão de ironia. (pg. 99)"
Luanda, Lisboa, Paraíso conta a história de Aquiles, que nasceu com o calcanhar malformado, e com 15 anos viaja para Lisboa, com o pai, Cartola, enfermeiro, para ser operado ao calcanhar. Em Luanda, em plena guerra civil, ficam a mãe, Glória, acamada desde o nascimento do filho, a irmã e a filha dela e duas primas. Mesmo depois de sair do hospital, os dois, pai e filho, vão permanecendo em Lisboa que descobrem inóspita e distante das imagens que dela formavam:
"(...) Assim que pai e filho perderam a ilusão de que Lisboa os aguardava e de que ali podiam contar com alguém ou esperar alguma coisa do futuro, a cidade tornou-se uma barulheira."
É um livro sobre a esperança e como ela é determinante na nossa vida. Existindo esperança, as pessoas acreditam no futuro, sonham, reconstroem a casa depois de ter ardido, escrevem cartas, fazem promessas nas quais acreditam. Mas quando a esperança desaparece, tudo o resto cai como um castelo de cartas. Como se a esperança fosse a cola que mantém tudo o mais unido. Ou podia substituir a esperança pela amizade e escrever exatamente o mesmo. Mas talvez fosse a amizade que lhes permitia a esperança. No final Cartola atira a cartola ao Tejo, anunciando provavelmente a partida como o pai dele fizera muitos anos antes - e abdicando ambos do objeto que lhes deu o nome.
A acabar, não posso deixar de referir um parágrafo cuja leitura me surpreendeu. Aquiles vai a uma feira com a irmã e a sobrinha, que vêm a Lisboa passar o Verão e sentam-se a comer junto de uma estrada. Eles observam as pessoa que passam nos carros e que tiram macacos do nariz (confesso que também me divirto a observar quem o faz) ou a pintar os lábios no espelho antes do semáforo abrir e conclui assim:
"(...) Mas não se saberia dizer quem observava, pois os outros, ao passarem de raspão, também os viam e eram aos olhos deles três pobres diabos sem destino, uma família de chimpanzés vestidos de gente."
Nunca me ocorreria esta comparação e confesso que, apesar de desdenhar da crescente imposição do politicamente correto, me chocou até. Como seria entendida ou lida esta afirmação por parte de uma escritora branca? Ou será que escreveria o mesmo se se tratasse de 3 jovens brancos? Mas provavelmente não me será fácil entender e muito menos julgar.
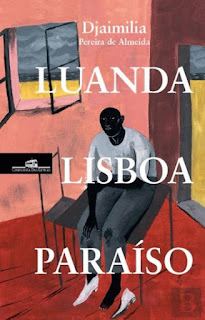


Comentários
Enviar um comentário