Em tudo havia beleza (Ordesa), Manuel Vilas (Alfaguara)
Em tudo havia beleza foi um dos poucos livros que comprei na Feira do Livro deste ano. Não conhecia o autor, Manuel Vilas, mas confesso que gostei do título, da capa e da dúvida que a palavra «Ordesa» entre parênteses introduzia. Li, ainda antes de o comprar - na fila para a caixa -, as folhas iniciais que reforçaram a minha vontade de o ler.
É um livro autobiográfico, de balanço, particularmente tocante para quem, como ele, ultrapassou as cinco décadas de vida:
«O passado de qualquer homem ou mulher com mais de cinquenta anos transforma-se num enigma. É impossível resolvê-lo. Resta apenas apaixonarmo-nos pelo enigma.» (pg. 83)
É nessa altura da vida que, em regra, somos confrontados com a proximidade da morte, mas também com a solidão resultante de várias perdas. Como escreve logo na primeira página:
«(...) Foi então que voltei a pensar no meu pai. Porque pensei que as conversas que tivera com o meu pai eram a única coisa que valia a pena. Regressei a essas conversas, à espera de alcançar um momento de descanso no meio do desvanecimento geral de todas as coisas.»
As conversas (memórias) não são apenas com o pai, mas também com a mãe e com todos os familiares que o antecederam e que já morreram, alguns dos quais nem chegou a conhecer. Com a morte dos pais, morrem um pouco os filhos, o passado que só eles testemunharam:
É um livro autobiográfico, de balanço, particularmente tocante para quem, como ele, ultrapassou as cinco décadas de vida:
«O passado de qualquer homem ou mulher com mais de cinquenta anos transforma-se num enigma. É impossível resolvê-lo. Resta apenas apaixonarmo-nos pelo enigma.» (pg. 83)
É nessa altura da vida que, em regra, somos confrontados com a proximidade da morte, mas também com a solidão resultante de várias perdas. Como escreve logo na primeira página:
«(...) Foi então que voltei a pensar no meu pai. Porque pensei que as conversas que tivera com o meu pai eram a única coisa que valia a pena. Regressei a essas conversas, à espera de alcançar um momento de descanso no meio do desvanecimento geral de todas as coisas.»
As conversas (memórias) não são apenas com o pai, mas também com a mãe e com todos os familiares que o antecederam e que já morreram, alguns dos quais nem chegou a conhecer. Com a morte dos pais, morrem um pouco os filhos, o passado que só eles testemunharam:
«Todo o meu passado se desmoronou quando a minha mãe fez o mesmo que o meu pai: morrer».
Mais à frente escreve:
«A morte dos nossos pais é abjeta. É uma declaração de guerra que a realidade nos faz.» (pg. 31)
E é esse passado que quer resgatar como forma de compreender os filhos e, de alguma forma, permitir o desfrutar do presente, apesar da consciência da proximidade da morte e do medo da decrepitude:
«E ninguém quer morrer antes da hora. Pois morrer não tem graça nenhuma e é algo antigo. O desejo de morte é um anacronismo». (pg. 18)
«Assustam-me os velhos. São o que serei.» (pg. 69)
«A decrepitude não pode ser perdoada. É detestabilidade e fracasso. A consciência da decrepitude, é disso que falo. Quanto maior a consciência que temos da nossa decrepitude, mais nos aproximamos da detestabilidade de Deus.» (pg. 146)
Dizer se gostei ou não de ler este romance é como desfolhar um malmequer: houve partes que gostei muito – de que são testemunhas os vários sublinhados -, outras que gostei menos, sobretudo porque me pareceram redundantes, como se estivesse a ler em círculos. Ele próprio se define como herdeiro do caos narrativo:
«A minha mãe era uma narradora caótica. Eu também o sou. Herdei da minha mãe o caos narrativo» (pg. 23)
Houve até algumas partes que achei menos compreensíveis, como o facto de substituir o nome de todos os familiares pelo nome de um compositor clássico, não justificando porque o faz, nem sequer a escolha de cada um dos nomes, ou o capítulo em que narra o almoço com os reis e faz o elogio da monarquia. Uma irritação mais pessoal tem a ver com o esquecimento que na Península Ibérica existem dois países e não apenas Espanha:
«(…) o espanhol quer que todos os espanhóis morram para ficar sozinho na Península Ibérica, para poder ir a Madrid e não haver lá ninguém, para poder ir a Sevilha e não haver lá ninguém, para poder ir a Barcelona e não haver lá ninguém.» (pg. 208)
Não gostei particularmente do que designa de epílogo e que é composto por diversos poemas.
E é esse passado que quer resgatar como forma de compreender os filhos e, de alguma forma, permitir o desfrutar do presente, apesar da consciência da proximidade da morte e do medo da decrepitude:
«E ninguém quer morrer antes da hora. Pois morrer não tem graça nenhuma e é algo antigo. O desejo de morte é um anacronismo». (pg. 18)
«Assustam-me os velhos. São o que serei.» (pg. 69)
«A decrepitude não pode ser perdoada. É detestabilidade e fracasso. A consciência da decrepitude, é disso que falo. Quanto maior a consciência que temos da nossa decrepitude, mais nos aproximamos da detestabilidade de Deus.» (pg. 146)
Dizer se gostei ou não de ler este romance é como desfolhar um malmequer: houve partes que gostei muito – de que são testemunhas os vários sublinhados -, outras que gostei menos, sobretudo porque me pareceram redundantes, como se estivesse a ler em círculos. Ele próprio se define como herdeiro do caos narrativo:
«A minha mãe era uma narradora caótica. Eu também o sou. Herdei da minha mãe o caos narrativo» (pg. 23)
Houve até algumas partes que achei menos compreensíveis, como o facto de substituir o nome de todos os familiares pelo nome de um compositor clássico, não justificando porque o faz, nem sequer a escolha de cada um dos nomes, ou o capítulo em que narra o almoço com os reis e faz o elogio da monarquia. Uma irritação mais pessoal tem a ver com o esquecimento que na Península Ibérica existem dois países e não apenas Espanha:
«(…) o espanhol quer que todos os espanhóis morram para ficar sozinho na Península Ibérica, para poder ir a Madrid e não haver lá ninguém, para poder ir a Sevilha e não haver lá ninguém, para poder ir a Barcelona e não haver lá ninguém.» (pg. 208)
Não gostei particularmente do que designa de epílogo e que é composto por diversos poemas.
***
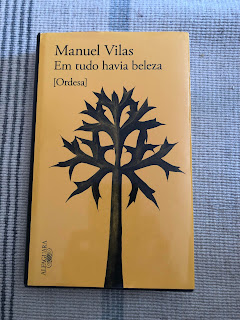


Comentários
Enviar um comentário